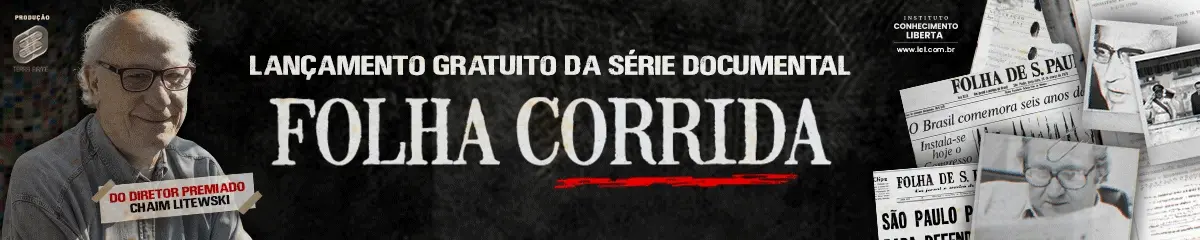Discutir a relação da política com a religião é deparar-se com o estabelecimento de fronteiras. O político no campo da ordem pública, e o religioso, no da vida privada.
Uma outra modalidade de alocação é dizer que o político evoca a razão, enquanto que o religioso se concretiza na esfera do simbólico. No entanto, essa relação não obedece às delimitações oficiais. Observa-se, na prática, a inserção do religioso na política e da política no religioso.
Lembremo-nos da Teologia da Libertação no contexto brasileiro, na década de 1960. Setores eclesiais católicos e protestantes tiveram que responder ao conturbado momento político em que vivia a nação. A opção preferencial foi aproximar-se do povo.
A organização das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) foi à contextualização do texto bíblico para entender e agir naquele momento. Ver, julgar e agir — e dessa experiência religiosa foram formados importantes quadros políticos.
E quanto às igrejas evangélicas? Para parte da imprensa e dos intelectuais da época, essa expressão religiosa servia como uma compensação para o povo sofrido das grandes cidades, e crescia na esteira da desorganização social e da exclusão econômica alienando as massas.
Entre os progressistas, havia o entusiasmo pelas ações politizadas das CEBs e uma desconfiança muito grande com o suposto silêncio dos evangélicos. Com a redemocratização brasileira, a partir da década de oitenta, muitas foram as ações políticas dos grupos religiosos — e muitas foram, por outro lado, as políticas que afetaram os grupos religiosos.
Em nome da Igreja Evangélica, muito tem sido realizado na arena política, ainda que nem tudo seja conhecido pelos crentes. Da alegada alienação na época do Regime Militar, os crentes entraram nos anos 1990 sob a acusação de perpetrar uma participação política ambiciosa, alimentada pela mídia. Ou seja, de uma ou de outra forma os evangélicos estariam deslocados no espaço político.
Alguns episódios colaboraram para tal. Um deles foi a atuação da bancada evangélica na Assembleia Nacional Constituinte, eleita em 1986. Grande — e negativa — repercussão teve a atuação da maioria dos 32 parlamentares ligados às igrejas, regada a clientelismo.
Desde então, a cada formação das câmaras legislativas, conta-se quantos evangélicos foram eleitos e examinam-se de diferentes formas os perigos que tal participação religiosa representa para o sistema político.
Neste particular, o trabalho inaugural do sociólogo Paul Freston continua como uma referência importante. Freston mostra empiricamente como as representações políticas de setores evangélicos elaboraram estratégias de participação eleitoral e, posteriormente, de performances parlamentares.
Na mesma direção vai a antropóloga Regina Novaes, que enxerga uma série de nuances no voto evangélico. Uma delas é de que o crente não restringe seu voto unicamente à vinculação denominacional ou religiosa, mas também à lealdade familiar, sindical e de classe, por exemplo.
Além disso, o simples pertencimento do candidato a uma comunidade cristã não significa, necessariamente, um alinhamento automático de todos os seus membros àquele postulante.
Teorias à parte, estamos frente a um novo período eleitoral, em que ficará mais uma vez nítido que as demarcações de fronteiras entre religião e política são tão arbitrárias quanto imprecisas. A linha que divide os dois campos é imaginária.
Portanto, veremos uma vez mais a invasão política na seara das igrejas evangélicas. Logo depois, teremos de novo parlamentares eleitos profanando o espaço público com supostos discursos e práticas representativas do rebanho evangélico. E vamos ter que explicar novamente que não reconhecemos como tais nossos supostos representantes. Corar de vergonha é um bom princípio — mas, é pouco.
Relacionados
Celebrações a São Jorge arrastam multidões em diferentes regiões do Rio
Dia de festa para o santo guerreiro une fiéis católicos e praticantes das religiões de matriz africana
Gestos a-religiosos do Papa Francisco, testemunho de misericórdia
Homilia simples em homenagem ao Papa Francisco escrita no dia da sua morte, um dia após o Domingo de Páscoa ou Domingo da Ressurreição
Interfaces entre mundo político e religioso
Religião e a politica são usadas como mecanismo e manobras de sobreposições fundamentalistas e intolerantes