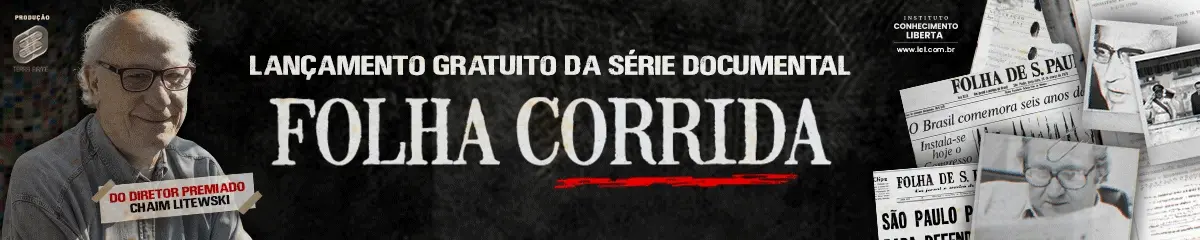Por Soraia Mendes *
O início da mobilização ao redor da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres[1] é sempre uma daquelas efemérides que muito menos diz com o que temos que comemorar do que com o quanto ainda temos de lutar por novos direitos, para que os direitos já afirmados na letra da lei se tornem realidade e, mais grave ainda, para que direitos não sejam retirados.
Infelizmente, portanto, não trago boas novas.
Este artigo dá início a uma sequência de três reflexões que ora começo a submeter ao debate público sobre o que entendo, a partir dos estudos que venho aprofundando, serem aspectos ainda velados na prática judicial em casos de violência doméstica e familiar, de violência institucional e de violência política contra as mulheres.
Três diferentes contextos de subjugação feminina que se revelam no sistema de justiça pelo que tenho chamado, respectivamente, de retórica da vulnerabilidade, de retórica do segredo e de lawfare de gênero. Ou também poderia eu dizer, tipos ideais de tratamento que levam os nomes de Ana (Hickmann), Schirlei (Alves) e Maria Tereza (Capra).
Para começar, então, quero falar sobre milhares de Anas que batem nas portas do Judiciário brasileiro em razão da violência doméstica e familiar.
Apresentadora, empresária, ex-modelo, Ana Hickmann não é propriamente representativa da maioria esmagadora das vítimas de violência brasileiras. Pelo contrário, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública[2] demonstram que dentre as mulheres que afirmam terem sofrido agressões de toda ordem em 2022, 65,6% eram negras. E, pelo que é possível deduzir (sem nenhuma margem de precisão), a maioria delas também pertenceriam à classe trabalhadora, considerado o alto número cuja escolaridade é de apenas o ensino fundamental. O que, segundo o relatório, as torna as mais vulneráveis dentro dessa categoria.
Por sinal, abro aqui um breve parêntesis para dizer que, metodológica e politicamente seria importante que a pesquisa realizada pelo Fórum junto ao Instituto Datafolha e com o patrocínio da Uber (?!) trouxesse também dados referentes ao perfil de classe das vítimas. Logicamente que reconhecemos (e o caso de Ana Hickmann, dentre outras, estão aí para comprovar) que a violência contra as mulheres é perversamente democrática. Entretanto, a mera a afirmação de que a pesquisa atingiu mulheres e meninas de “todas as classes sociais”, acaba por obscurecer que o acesso à efetividade dos mecanismos da Lei Maria da Penha não é igualitário entre todas.
Basta ver que, ofertadas à apresentadora, as medidas protetivas de urgência (MPU) foram por ela dispensadas. Trata-se de um direito dela, sem dúvida. Contudo, a maioria esmagadora das vítimas de violência doméstica não dispõe de meios próprios que as façam sentir (e, de fato, estar) seguras.
Como mostra outro relatório do Fórum (Violência contra meninas e mulheres no 1º semestre de 2023[3]), em média, apenas 11,1% das 1.026 vítimas de feminicídio da amostra recolhida tinham MPU vigente quando foram mortas. Isto é, a grande maioria das vítimas não tinha qualquer forma de proteção estatal
Liberdade é possibilidade de escolha entre alternativas concretas, já dizia o um velho filósofo… Para uma mulher pobre, especialmente, periférica, medidas protetivas não são objeto de escolha, são indispensáveis.
Quiçá um dia todas mulheres possam optar por ter garantidas a seu favor medidas protetivas de urgência. Ou melhor, quiçá um dia a estrutura patriarcal se rompa e elas sequer sejam mais necessárias. Todavia, estamos longe deste último cenário. Não somente pelos recursos que ainda são escassos, mas sobretudo pelos artifícios retóricos criados para negar proteção às mulheres sobre os quais quero tratar a partir de agora.
Lá se vão dezessete anos desde a edição da Lei Maria da Penha cuja razão de ser está centrada na necessidade de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher de acordo com Constituição Federal, com a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e com a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Mas, mesmo depois de ter sido ela submetida ao crivo de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal há mais de uma década, o que não faltam nos tribunais brasileiros são precedentes jurisprudenciais nos quais quem julga avoca para si o poder de conceder ou não a proteção estatal a uma vítima a partir de uma nebulosa exigência de demonstração de sua vulnerabilidade.
Em rápida busca nas bases de dados de tribunais brasileiros é possível localizar dezenas de decisões que negam provimento a medidas protetivas, à toda sorte de ações cíveis decorrentes de violência psicológica e moral e/ou à competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar. O fundamento? Simples, o preenchimento pela vítima de um requisito segundo o qual, em linhas gerais: “não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher”.
Ou seja, criou-se, e consolidou-se em vários tribunais Brasil afora o que tenho chamado de “retórica da vulnerabilidade”. Uma construção discursiva muito peculiar em que, de regra, de um lado, afirma-se a importância da Lei Maria da Penha e, até mesmo, do Protocolo da Julgamento sob a Perspectiva de Gênero, mas que, de outro, a partir de subjetivismos, conclui-se que gozará do “status de verdadeira vítima” somente aquela que demonstrar ser vulnerável e/ou hipossuficiente e/ou a condição de gênero da situação de violência que experimentou (ou experimenta).
Decisões como essa são tranquilamente encontradas no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no Tribunal de Justiça do Paraná, no Tribunal de Justiça de Sergipe, no Tribunal de Justiça da Bahia, no Tribunal de Justiça do Mato Grosso entre outros. No TJDFT, por exemplo, além de ser este um tema consolidado[4], é possível localizar julgados que chegam ao requinte de exigir “a DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA de que a conduta do agente foi praticada na condição de hipossuficiência ou baseada no gênero em relação à vítima”.
Em ponto algum da Lei há fundamento para uma exigência de tal monta. Pelo contrário, em fevereiro de 2012, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADC 19, julgou constitucionais os artigos 1º, 33 e 41 da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha; bem como, por maioria de votos (vencido apenas o então presidente da Corte, Ministro Cesar Peluso) para dar interpretação conforme aos artigos 12, inciso I, e 16, ambos da Lei nº 11.340/2006, e assentar a natureza incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão corporal, pouco importando a extensão desta, praticado contra a mulher no ambiente doméstico. O julgamento representou um verdadeiro marco para a política judiciária de afirmação e efetivação aos direitos humanos fundamentais das mulheres. Não somente pelo que ao final foi decidido, mas, principalmente, pelos debates que giraram ao redor do reconhecimento da vulnerabilidade feminina como decorrente de uma estrutura violenta a que somos historicamente submetidas.
Em memoráveis contribuições foram afirmados pelos ministros e ministras que “com base em razões históricas e culturais, etc, […] a Lei chamada Maria da Penha, na verdade, representou a estratégia normativa para, antes que ofender, aplicar o princípio da igualdade, sobretudo numa situação em que a vulnerabilidade da mulher é manifesta, e, por isso mesmo, pediria, como pediu, a intervenção do ordenamento jurídico a seu favor”[5]. E, dentre todas as manifestações, foi especialmente impactante a declaração de voto da Ministra Cármen Lúcia. Dizia ela: (…) a interpretação que agora se oferece para conformar a norma à Constituição me parece basear-se, exatamente, na proteção maior à mulher e na possibilidade, portanto, de se dar cobro à efetividade da obrigação do Estado de coibir qualquer violência doméstica. E isso que hoje se diz, ainda não sei se com certo eufemismo, com certo cuidado, de que nós somos mais vulneráveis, na verdade, significa que somos mulheres maltratadas, mulheres sofridas, todas nós que passamos por situações que, na generalidade, não deveríamos viver. (…) Estamos tentando ficar fortes, cada vez mais. E ações como essa, discussões como essa, nos permitem, exatamente, essa possibilidade.
É sobre isso.
É sobre a responsabilidade que cabe ao Judiciário em reconhecer que não somos “vulneráveis” porque ou quando queremos. Fomos e continuamos a ser “vulneradas” por um sistema de subjugação nos colocou nesta posição e quando buscamos os tribunais somos somente mais uma de milhares de Anas que estão tentando ficar fortes, cada vez mais…
*Soraia Mendes é jurista, advogada, professora, pós-doutora em Teorias Jurídicas Contemporâneas (UFRJ), doutora em Direito, Estado e Constituição (UnB), mestra em Ciência Política (UFRGS), com atuação e obras reconhecidos no Supremo Tribunal Federal e na Corte Interamericana de Direitos Humanos.
[1] Os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres é uma campanha anual e internacional com início em 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, prolongando-se até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. No Brasil, de modo particular, a mobilização começa em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, daí porque, aqui, também a chamarmos de 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres.
[2] Vide o relatório “Visível e Invisível: A Vitimização de Mulheres no Brasil – 4ª edição – 2023”, disponível em https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2023/03/visiveleinvisivel-2023-relatorio.pdf .
[3] Disponível em https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2023/11/violencia-contra-meninas-mulheres-2023-1sem.pdf
[4] “Vulnerabilidade. Para incidência das disposições constantes da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência tenha sido praticada apenas em razão do gênero feminino, em qualquer relação familiar ou afetiva, com ou sem coabitação. Há que ser demonstrada também a situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência da vítima.” (Última modificação: 28/04/2022 19:29). Disponível aqui.:
[5] Trecho do voto do então presidente do Tribunal, Ministro Cezar Peluso nos autos da ADC 19.
Relacionados
Nove em cada dez agressões contra mulher foram presenciadas por alguém
21,4 milhões de brasileiras sofreram violência no último ano
SC gastou só R$ 14 em acolhimento a cada caso de violência doméstica em um ano
Governo de Jorginho Mello gastou apenas o equivalente a 5,4% do total de R$ 15,8 milhões deixado na rubrica pelo governo do seu antecessor
Justiça determina que filho de Lula deixe apartamento onde mora
Ex-mulher acusa Luís Claudio de violência doméstica e decisão determina que filho de Lula mantenha distância de 200 metros