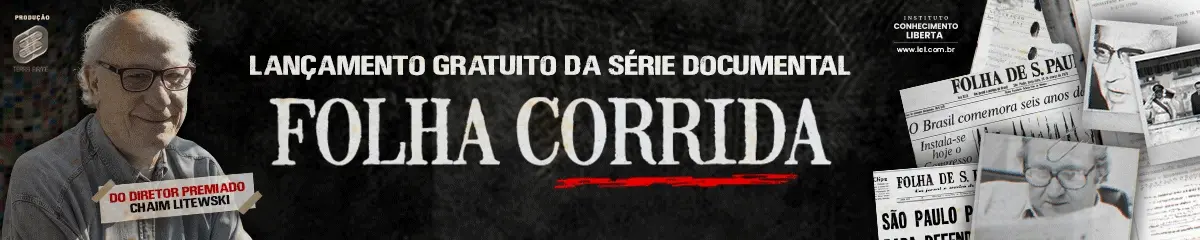As polêmicas da vez vêm de duas músicas: “Mulheres“, canção de Toninho Gerais famosa na voz de Martinho da Vila; e “Caranguejo”, composta por Alan Moraes, Durval Costa e Luciano Pinto, que Cláudia Leitte gravou com sua antiga banda, a Babado Novo. O resumo destas óperas todo mundo sabe. A britânica Adele cantou uma versão lentinha e plagiada do samba e a brasileira Cláudia resolveu por sua conta e risco inventar uma versão gospel do axé ao substituir Yemanjá por Yeshua (Jesus em hebraico).
Aí começou um tiroteio midiático e a palavra “apropriação” passou a pular em textos, falas, piadas… O Brasil, todo mundo sabe, é o lugar dos eufemismos. A gente acha palavras para que o que é não seja tanto assim. Plágio, apropriação… tudo isso é roubo intelectual. Tudo isso é um vampirismo na cultura e na criação de alguém. Um produto artístico surgido das referências, paixões, alegrias, tristezas, questionamentos e devoções.
No entanto, há mais e está para além dos nomes das artistas do debate do momento. O samba, a axé music, a capoeira, o passinho, o hip hop, o funk e tantas outras manifestações nas Américas estão enraizadas lá do outro lado do Atlântico, na África. Tudo isso é preto, muito preto, preto demais. Por isso, quando o dinheiro começa a jorrar é preciso que deixe de ser “tão” negro. Há que “atenuar”. A questão é que o método de roubar, meter a mão grande e desrespeitosa nestes tesouros do gênio artístico negro está sistematizado por séculos e um tanto naturalizado até pela população negra porque este método também tem nome: capitalismo. O racismo é um substrato dele, uma de suas mais bem sucedidas invenções.
Estamos girando em círculos em todos estes debates e eles vão se repetindo e se renovando porque não chegamos no coração que são as indústrias e a visão da nossa produção artística e imagética como algo a ser pilhado. Uma lógica colonial extrativista e evangelizadora também na cultura. Tudo se atualizou, mas o sistema é exatamente o mesmo. Como dizia o José Saramago: “Se puderes olhar, vê. Se puderes ver, repara”.
Os britânicos que gostaram do samba a ponto de querer para eles, nem originais foram. Outros já andaram por aqui colhendo aquilo que acham que pode ser pego sem que ninguém reclame autoria porque, afinal, eles são brancos do norte global e superiores. Quem irá contestá-los, não é mesmo? Andam se quebrando volta e meia nesta prática, mas como a grana é alta e em mil, um reclama, o crime compensa. O samba, este gênero que ao longo dos séculos parece sempre precisar do clamor na voz de Alcione: “Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar…”. Não vai morrer e nem acabar, vai continuar a ser fonte de lucro para todo mundo, menos para quem o inventou.
Quanto a cantora tão religiosa, ela era uma criança lá nos idos dos anos 80/90 quando eu ia à Bahia ver a família e brincar o carnaval. Voltava feliz, com os cabelos trançados e orgulhosa de todo aquele banho de negritude, mas era alvo de muita piada, racismo recreativo no topo porque “Axé” era um deboche, um demérito, coisa de preto. Esta palavra saída do candomblé não tinha qualquer valor positivo fora de um determinado grupo, mas o jogo virou, o capitalismo cooptou, agregou a palavra “Music” e ao longo dos últimos 40 anos este estilo foi ficando, digamos, nem tão preto assim. Agora está aí… Yeshua.
Era o ano de 1978 quando a escritora estadunidense Maya Angelou, citou um ditado africano introduzindo uma fala onde recitou o seu famoso poema “Still I Rise” (Ainda assim eu me levanto): “O problema do ladrão não é conseguir roubar a corneta do chefe, mas onde ele poderá soprá-la”.
As cornetas estão sendo tocadas, não estamos mais deixando os sopradores mais tão confortáveis quanto já estiveram um dia, mas precisam finalmente pagar algum preço por suas “apropriações” e por seu desprezo por nós.
Nem Yemanjá, nem Yeshua aprovariam.
Relacionados
Estudantes e professores de escola particular fazem ato contra racismo em bairro nobre de SP
Estudantes denunciam que foram vítimas em shopping do bairro nobre da capital paulista
Nasi, vocalista do Ira!: ‘Precisamos ficar atentos para defender nossa democracia’
Viralizou vídeo em que cantor pede que bolsonaristas que defendem anistia a golpistas vão embora de seu show. Apresentações em RS e SC foram canceladas
Diretora de ONG denuncia racismo contra filha de 7 anos em academia no Rio
De acordo com a mãe, crianças se recusaram a brincar com a menina por ela 'ter pele escura'