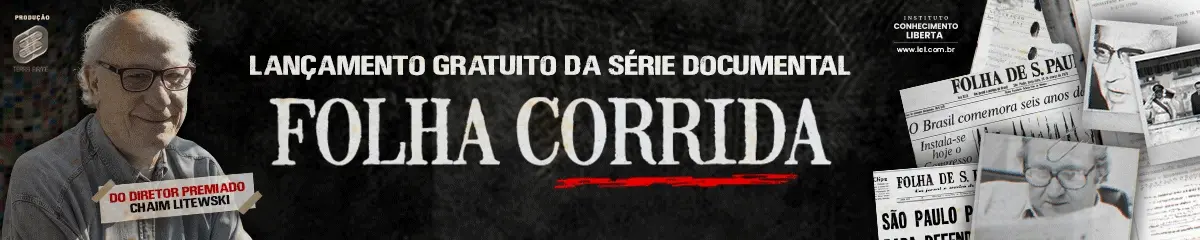Por Gabriela Moncau e Maria Helena de Pinho — Brasil de Fato
Manoel*, indígena Guarani Kaiowá de Mato Grosso do Sul (MS), estava dentro do alojamento da Fischer S/A Agroindústria em Monte Carlo (SC) quando a Polícia Militar (PM) encheu o cômodo de spray de pimenta. “Eu tossi, tossi, tossi. Não aguentava mais, quando abri a porta para sair, já não via”, conta. Sem enxergar, apanhou de cassetete e bala de borracha. “Primeiro bateu aqui, na segunda aqui, na terceira aqui”, mostra as marcas no corpo. “E na quarta perdi minhas forças. Caí”. Sufocado, desmaiou. Naquela noite, cerca de 135 indígenas que migraram para trabalhar na empresa conhecida pela “maçã da turma da Mônica” foram brutalmente reprimidos.
O caso aconteceu em 14 de dezembro do ano passado, e desvela, além da violência policial convocada pela Fischer, condições vividas por indígenas que anualmente migram para o Sul para trabalhar na cadeia produtiva da maçã, com a intermediação de órgãos públicos.
Contratações sazonais como esta são agenciadas pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), órgão vinculado ao governo estadual, e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT-MS). Nos primeiros meses do ano, os trabalhadores viajam para a colheita e, por volta de novembro, retornam aos pomares para o raleio, etapa em que retiram manualmente o excesso de frutas nos galhos.
Em 2024, segundo seus próprios dados, a Funtrab intermediou a migração temporária de 1.483 indígenas do MS para trabalhar no raleio da maçã de seis empresas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A Fischer recebeu o maior número de trabalhadores.
Indígenas feridos pela PM neste episódio alegam que até hoje, quatro meses depois, sentem dor, enfrentam sequelas e não receberam a remuneração completa que havia sido acordada. Demandam, ainda, direito à indenização. Seis deles denunciam ter sido algemados e torturados ao longo daquela noite.
Aureliano* teve o braço fraturado e, como outros indígenas ouvidos pela reportagem, afirma que não conseguiu voltar a trabalhar. Alguns relatam dificuldade para comer e sentir o gosto dos alimentos após excessiva inalação de spray de pimenta. Eles ressaltam que não receberam atendimento médico ou auxílio com o custeio de remédios nem por parte da Fischer, nem de órgãos públicos.
“Falei: ‘Vou morrer’”
Era um sábado, por volta das 21h, momento de folga, e os Kaiowá da aldeia Taquaperi já estavam há cerca de 50 dias em Santa Catarina trabalhando no raleio da maçã da Fischer. No alojamento, muitos dormiam, outros bebiam, assistiam TV ou tomavam tererê. Dois indígenas da aldeia Pirajuí, de Paranhos (MS), começaram uma brig,a que logo foi apartada, e foram dormir. O gerente da empresa, referido como Edimar, chamou a PM. A Tropa de Choque chegou às 23h, jogando spray de pimenta pelos corredores e através das janelas dos quartos.
Tontos e sufocados, os trabalhadores saíram dos cômodos e começaram a ser agredidos — inclusive os “cabeçantes”, indígenas responsáveis por coordenar grupos de cerca de 45 trabalhadores de suas comunidades e mediar as relações deles com a empresa. Os cabeçantes das turmas atingidas relatam que foram pegos de surpresa e que os policiais revidaram violentamente as tentativas de diálogo.
“Foi muito feio, uma tragédia. O que nós queremos saber é porque mandaram a polícia atirar em todo mundo dentro do alojamento”, diz Jorge*, um dos três cabeçantes da aldeia Taquaperi, de Coronel Sapucaia (MS). “Estavam quase todos dormindo. No alojamento alguns saem, ficam tomando tererê. Acho que por isso o Edimar ficou nervoso: porque não entraram para o quarto”, avalia.
Abelardo*, jovem Guarani Kaiowá de 18 anos, afirma que foi torturado. Segundo conta, ele e outros cinco foram algemados e jogados em viaturas. “Chute, tapa na cara, eu não conseguia ver. Eu falei: ‘Eu vou morrer’. Não conseguia olhar. Jogaram na minha boca também a pimenta de gás. Levaram a gente para outro alojamento longe. De manhã eu ainda não conseguia olhar nem falar, eu chorava, pedia a Deus”, conta. “Deixaram a gente trancado. Não deixaram a gente sair, como se a gente fosse criminoso. A gente era refém”, salienta.
“Não teve misericórdia lá. Até hoje eu não consigo comer normalmente”, resume João*, outro dos que foram deslocados para o outro alojamento. “No dia seguinte levaram a gente de volta só até metade do caminho. A outra metade fomos a pé até nosso alojamento. Ficava a 5 km ou 6 km. Fomos devagarinho, a gente estava muito machucado. Torturaram mesmo. Foi uma tortura”, denuncia Abelardo.
“Parecia que achavam que nós somos bichos. Nós não somos bicho, não. Aqui na aldeia nós sabemos que o pessoal do Rio Grande de Sul, de Santa Catarina, não gosta de índio. Não gosta mesmo. Se você for, por exemplo, andar na rua assim tranquilo, com certeza vão fazer algo”, expõe Abelardo. “O policial falou ‘seu bugre’ quando batia em nós”, descreve, indignado.
A despeito de três tentativas do Brasil de Fato, a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, sob o governo de Jorginho Mello (PL), optou por não se posicionar sobre o caso.
Já a Polícia Militar informou que foi chamada naquela noite porque estava ocorrendo uma “briga generalizada” na Fischer. No mesmo parágrafo, no entanto, a PM confirma que o funcionário da empresa disse que “a situação estaria controlada” e que era necessário apenas fazer o Boletim de Ocorrência. “Segundo o mesmo responsável, havia no local 180 pessoas, as quais, após ingerirem bebida durante a tarde, começaram a brigar e quebrar o alojamento durante a noite”, diz a polícia catarinense.
“A guarnição que estava no local percebeu que a situação estava se inflando novamente, com gritos, algazarras e provocações entre as tribos”, declara a nota da PM. Na versão da polícia, um indígena teria empunhado um arco e flecha e outro, um facão. “De imediato foi respondido o injusto ataque com disparo de munição não letal”, diz a PM. Em seguida, afirmam que “a situação foi controlada”.
No dia seguinte ao da repressão, em 15 de dezembro, o cacique Samuel Velasquez, da aldeia Taquaperi, acionou a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), o Ministério Público Federal (MPF-MS) e a Fischer para viabilizar o retorno imediato dos indígenas machucados à comunidade.
“Até hoje tenho bala de borracha em casa, que o pessoal trouxe de lá e me entregou”, conta o cacique. Dos seis ônibus da aldeia que foram a Monte Carlo, três voltaram com os que sofreram o ataque.
Pouco dinheiro, muitas sequelas
“A gente foi longe para ganhar dinheiro. E voltou sem”, se queixa Abelardo, que teve essa como sua estreia no setor produtivo da maçã. “A gente tem família. O que a gente vai comer? Como a gente vai comprar?”, questiona.
A remuneração destes trabalhadores na colheita da maçã é de um salário fixo acrescido por um bônus de R$ 0,80 por sacola depois que uma meta mínima é atingida, valor que varia de acordo com o pomar. No caso do raleio — técnica de ajuste entre frutos e folhas –, o acréscimo é por horas trabalhadas a mais.
O Brasil de Fato teve acesso a um contrato da Fischer para o trabalho no raleio em dezembro de 2024. O documento prevê um salário de R$ 7,33 por hora das 7h15 às 16h30, com a jornada podendo ser acrescida de “horas suplementares sempre que o empregador necessitar” até, no máximo, 44 horas semanais.
Sem gratificações, a remuneração bruta, de acordo com o contrato, é de R$ 1.172,80 por mês. Indígenas ouvidos pela reportagem relatam receber, em média, R$ 1.500 mensais. O salário mínimo atual no Brasil é de R$ 1.518. Em dezembro do ano passado, estava em R$ 1.412. Segundo os Kaiowá, a pedido da empresa, eles aceitaram seguir trabalhando no pomar dias depois do fim do contrato, e houve um acordo de que receberiam mais R$ 700. É este valor, além das verbas rescisórias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que afirmam não ter recebido.
“Por causa disso eu tentei entrar em contato com o Edimar [gerente do pomar] e até agora ele não me atendeu. Nem o vale-alimentação mandaram. Bloquearam nossos números”, atesta Jorge, que exercia o papel de mediação entre um dos grupos e a empresa. “Esperamos essa resposta ainda, mas, até agora, nada”, se indigna.

Alguns dos trabalhadores Kaiowá que foram agredidos, em entrevista concedida na aldeia Taquaperi. (Foto: Maria Helena de Pinho/ Papel Social)
Procurada, a Fischer alega que os indígenas “foram contratados para o raleio das maçãs, com contrato de safra, com previsão de término em 51 dias, podendo encerrar antes ou depois. Permaneceram 53 dias. Foi pago tudo o que era de direito”.
Na opinião do cacique Velasquez, os trabalhadores deveriam ser indenizados. “Muitos estão fazendo tratamento, não estão conseguindo trabalhar. Teve gente que quebrou a clavícula, que quase perdeu a visão, que machucou perna, braço, costela, que tomou gás de pimenta no rosto… Cerca de 30 ficaram muito machucados”, elenca.
Mão de obra indígena na cadeia da maçã
Desde 2009, há registro de aliciamento clandestino de indígenas do Mato Grosso do Sul — além de trabalhadores de outros estados brasileiros, em especial o Maranhão, e do Paraguai e da Argentina — para o trabalho no setor produtivo da maçã na região Sul do país.
A partir de 2014, em reação a denúncias de violações de direitos, o MPT-MS criou um procedimento promocional (PA-PROMO 000133.2014.24.001/0-18), que regula a contratação de trabalhadores indígenas no estado.
O acordo entre MPT-MS e Funtrab visa, segundo um dos responsáveis por sua criação, o procurador Jeferson Pereira, “combater o tráfico destes trabalhadores, evitando que saiam daqui de forma clandestina e sejam submetidos a condições análogas à de escravo neste contexto do setor produtivo da maçã”.

Há uma década contratações de indígenas do MS para o trabalho com maçã em SC são agenciadas por órgãos do estado. (Foto: Funtrab/ Governo MS)
Atualmente as principais empresas do setor — entre as quais Rasip Alimentos, Fischer, Frutini Fruticultura, Shio e Campi — contratam migrantes indígenas do MS por intermédio dos órgãos públicos. É assim que, de acordo com Pereira, 36.400 indígenas do Mato Grosso do Sul migraram, nos últimos 10 anos, para trabalhar no setor produtivo de maçã no RS e em SC.
Nas palavras do procurador, a demanda das empresas por mão de obra indígena se dá por haver pouca oferta local e porque “o cuidado, manejo e atenção dispensada estavam sendo muito bem feitos por indígenas em comparação com outros trabalhadores. Por isso estavam indo às aldeias contratar”. Em 2015, o Ministério Público estabelece um “compromisso” da Funtrab para “agir como intermediadora pública das contratações”.
Vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do governo do Estado, a fundação não acatou os pedidos de entrevista da reportagem.
“Os trabalhadores vão pela Funtrab. Primeiro, fazem o cadastramento aqui na aldeia. Depois, fazem o cadastro com o Ministério do Trabalho. Quando chegam na empresa, fazem outro. São três cadastros”, explica o cacique Samuel Velasquez.
“Quem completa 18 anos, já vai. Porque no restante do ano não costuma ter trabalho. Aqui na nossa região não tem empresa para dar oportunidade. A única coisa que tem é frigorífico e o município. O pessoal cuida das próprias roças também”, contextualiza Velasquez.
Na visão do cacique, nenhuma das empresas remunera de forma digna. “Não paga o que merece o trabalhador. Só paga salário e algumas coisinhas, como vale-cesta, produção extra. Cada contrato é de dois meses. Geralmente, recebem em torno de R$ 2.800 a R$ 3 mil pelos dois meses. Para ir até o Sul é muito longe e ganha muito pouco”, argumenta. “A Fischer já pega várias aldeias. Amambai, Limão Verde, Porto Lindo. Num dia de embarque, são vinte e poucos ônibus ao todo”, enumera Velasquez.
Resposta do MPT e da Fischer
Acionado, o Ministério Público Federal do Mato Grosso do Sul informou que o caso é da alçada do MPT. Questionado sobre a denúncia feita pelos indígenas sobre a remuneração, o procurador do trabalho Jeferson Pereira disse que “há muitas nuances nessa forma de cálculo” das empresas.
Pereira afirmou, ainda, que sendo a maioria dos trabalhadores “sem estudo”, “analfabetos” e com dificuldade com o idioma, não há um “discernimento amplo”, “capaz de entender perfeitamente” o que foi acordado. “É um ruído de comunicação que acaba maculando a imagem das contratações dos trabalhadores indígenas”, opina.
Já ao ser perguntado sobre a violência policial e ações do MPT para proteger ou amenizar os danos sofridos por estes indígenas, Jeferson Pereira lembra que um procedimento foi aberto na Procuradoria do Trabalho de Joaçaba (SC). O procurador não comentou a ação da PM, mas “o acesso fácil à bebida” por parte de indígenas.
“É uma grande problemática que temos enfrentado”, afirma Pereira: “por mais que tenhamos feito trabalho junto aos empregadores e às forças policiais para fazer as fiscalizações nos estabelecimentos para que não façam essa venda facilitada e perniciosa de bebidas alcoólicas”.
“Eles [indígenas] ficam numa situação totalmente desequilibrada por conta do alcoolismo, por conta da embriaguez. É pavoroso”, classifica o procurador do trabalho, chegando a dizer que, por vezes, “se descontrolam e ocasionam essas selvagerias”. “Se ninguém vendesse bebida para indígena, se não tivesse esse acesso, essa facilidade, olha, seria excelente, porque eles trabalham muito bem”, acrescenta Pereira.
“A informação que eu obtive pela própria empresa [Fischer] e pelo que está nos autos relatado pela Polícia Militar é que houve atendimento dos bombeiros, encaminhamento ao hospital, atendimento médico. Então eles não foram largados a Deus dará, não. Eles são acolhidos, são atendidos. Então, há, sim, essa preocupação, porque a empresa tem a obrigação contratual de zelar pela integridade física”, pontua o procurador, se contrapondo à versão dos Guarani Kaiowá.
A posição da PM de Santa Catarina é, ainda, outra. Segundo nota oficial, depois que o embate acabou, foi “feita uma varredura pelo Corpo de Bombeiros e ninguém lesionado foi encontrado pelo local”.

Em 2022, a PM foi chamada na Fischer para ‘acompanhar’ uma demissão em massa de trabalhadores em greve que demandavam atendimento médico. (Foto: Giuliano Bianco / Papel Social)
Já a Fischer S/A Agroindústria informou que naquele 14 de dezembro de 2024 “ocorreu um conflito entre trabalhadores indígenas em um dos alojamentos da empresa”, que um deles se feriu e que “o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento”. “Diante da dificuldade em conter a situação apenas por meio do diálogo, a Polícia Militar foi chamada para apoiar a equipe de resgate”, diz a nota.
Ainda segundo a empresa, a unidade policial “tomou as medidas cabíveis para garantir a segurança e o atendimento adequado aos envolvidos. Após a resolução do conflito, os trabalhadores feridos – nenhum em estado grave – receberam atendimento médico imediato”.
A Fischer afirma, ainda, que “os indígenas estão cientes de que não houve abuso por parte da empresa”. De acordo com a nota, “a prova disso” é que 21 dos mais de 100 trabalhadores que foram alvo da ação policial “retornaram à empresa para o contrato de colheita de maçãs”.
Relacionados
Sugestão de ‘meter cacete’ em indígenas partiu de servidor do Ministério de Relações Exteriores
Secretaria garantiu que o áudio não partiu de nenhum representante das forças de segurança do Distrito Federal
Em ato contra Marco Temporal, indígenas são recebidos no Congresso com gás de pimenta
Policia atacou indígenas com bombas de gás; deputada Célia Xakriabá (PSOL/MG) foi atingida
Estudo inédito mostra que, sob pressão, garimpo ‘migra’ e segue afetando TIs
Relatório mostra dinâmica de migração da atividade que destruiu 4,2 mil hectares de floresta entre 2023 e 2024