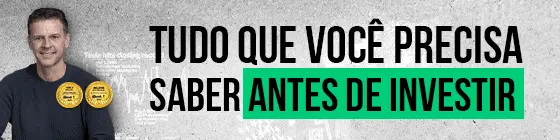Por Fabiana Reinholz — Brasil de Fato
Oriunda da terra indígena Votouro, no Norte gaúcho, Viviane Belini é a primeira mulher indígena a se formar na Faculdade de Direito da UFRGS desde 2007. Foi quando a universidade implantou o Processo Seletivo Específico para Ingresso de Estudantes Indígenas (PSEI).
Antes dela, o único indígena a obter diploma em Direito foi Marcos Kaingang, hoje dirigindo um dos departamentos do novo Ministério dos Povos Indígenas.
Ao longo de sua trajetória, Viviane participou do serviço de assessoria jurídica da universidade, um projeto de extensão que atende quem não tem dinheiro para pagar um advogado. Ali, atendeu especialmente povos indígenas e quilombolas. Seu trabalho de conclusão de curso (TCC), com foco na mulher indígena, recebeu nota A e elogios da banca examinadora. Brasil de Fato–RS conversou com Viviane sobre essa sua jornada, seus percalços, suas vitórias e seus planos. Confira:
Gostaria que nos falasse a respeito do teu trabalho de conclusão “Protagonismo feminino Kaingang: entre os costumes e o Direito brasileiro”.
Viviane Belini — Meu trabalho de conclusão de curso foi uma transcrição de uma vontade minha que eu tinha desde o começo, desde que entrei na universidade. E é um dos principais motivos de eu ter entrado no direito. Tentei compreender quais são as complexidades que tem por trás do papel sócio-político da mulher Kaingang na sociedade a partir das consequências e dos resquícios que a colonização deixou dentro da nossa cultura.
A gente sabe que, muito antes da colonização, a mulher Kaingang tinha um papel bastante ativo em vários âmbitos da estrutura social do povo Kaingang. Com a colonização isso foi se tornando bastante difícil para elas porque acabou as inferiorizando e subjugando.
Na colonização, com o sistema patriarcal implementado dentro das comunidades, ficou bastante difícil que elas tomassem algum papel bastante ativo dentro dos territórios e também fora deles, nas lutas do movimento indígena.
Então, foi nesse sentido que busquei tratar desse tema. E também para entender como elas estão lidando com isso hoje em dia, quais são as ferramentas de luta que estão usando hoje para lutar dentro do movimento indígena. Não só para os direitos delas mas também para os direitos dos povos indígenas em geral.
E qual foi a tua conclusão?
A bibliografia que tratava da temática indígena, em especial do povo Kaingang, quando se referia às mulheres, era muito superficial. Não tratava mais aprofundadamente a complexidade que envolvia esse papel dentro das comunidades antes da colonização.
Foi possível ver que a bibliografia de mulheres para mulheres é bastante escassa. Mas, pouco a pouco, a temática vem surgindo nas universidades e não só na UFRGS.
No meu TCC entrevistei mulheres Kaingang do território do Votouro (terra indígena no Norte gaúcho) e, a partir das conversas que tive com elas, foi possível ver também que existem conceitos bastante diferentes do que elas entendem do papel da mulher indígena dentro do território.
Mesmo assim, foi possível ver também que, diante desses retrocessos de direitos e tudo o mais, a mulher indígena vem se tornando uma grande protagonista nessa luta. Ao mesmo tempo, porém, mesmo que ocupem esses espaços de luta, continuam sendo os agentes mais conservadores da cultura indígena.

Minha mãe é artesã. Foi o que manteve a gente até por volta dos nossos 15 anos. Foto: Rafa Dotti
Conservadorismo das mulheres indígenas em relação ao quê?
Em relação à cultura indígena, artesanatos, à língua materna, aos ritos também, porque as mulheres também ocupam algumas posições importantes no que diz respeito à espiritualidade…
Vim agora no Uber para a entrevista e comentei com o motorista que iria fazer a entrevista contigo e ele fez uma pergunta. Disse que as crianças indígenas ficam nos sinais, não estudam… A gente tenta mudar essa imagem. Como você lida com esse preconceito da sociedade?
Elas estando ocupando esses espaços também são espaços de luta. Não sabem disso, mas o artesanato e as saídas para as cidades são as maiores fontes de subsídio das aldeias, das famílias, dos territórios.
É claro que, na maioria das vezes, também tem que respeitar o tempo deles para com o território e com a instituição de ensino também dentro do território, porque é importante e também estarem no espaço escolar. Mas, na maioria das vezes, é por conta de necessidade mesmo.
E nunca estão sós nesses espaços. Sempre tem supervisão de uma pessoa adulta. Não estão em uma situação ruim, como o motorista colocou. Estão sendo supervisionados, estão dando um retorno para a família, que precisa desse subsídio. E estão conhecendo novos espaços sem deixarem de participar do ambiente escolar.

“Agora que eu estou voltando para o território, quem sabe posso fazer algum tipo de formação, para que elas compreendam minimamente os seus direitos”. Foto: Arquivo Pessoal
Na fala do motorista, vi uma falta de interação, uma dificuldade de entender outra realidade…
Sim, com certeza. Vejo muita falta de interesse mesmo. É fácil falar de uma coisa que você não sabe.
Soube que, no teu mestrado, pretendes te aprofundar na questão da Lei Maria da Penha…
É uma grande vontade minha. Porque eu convivo diariamente com essa questão da violência. Sou fruto de violência. E convivi a maior parte do tempo nessa situação. Acho que a Lei Maria da Penha ainda não atende as especificidades da mulher indígena. Não compreende.
É importante trazer essa temática por conta da maior visibilidade das mulheres indígenas dentro do território brasileiro. Não sei se vou conseguir, porque não estou num momento tão bom emocionalmente para conseguir mostrar isso.
As mulheres em geral não conhecem muito bem a Lei Maria da Penha. Então, levar isso para o território indígena acho que…
É importante porque, às vezes, isso fica bastante limitado para as pessoas que estão fora do território, né? E não compreendem muito o que a lei pode fazer para as mulheres em situação de violência. Por isso é importante estudar esse tipo de coisa para a gente poder dar um retorno para os territórios.
Como é a questão de violência de gênero para as mulheres indígenas?
Bom, dentro do próprio TCC, foi possível ver que existe uma hierarquização de gênero. Mas, dentro dessa hierarquização, a mulher indígena não é o final dela, né?
Para os povos indígenas existe uma diferenciação de quais gêneros que podem ocupar os cargos, as posições. Mas as mulheres indígenas estão desconstruindo isso pouco a pouco. Ganhando esses espaços.
Conta um pouco da tua trajetória, da tua história de vida.
Sou filha de mãe solo. Vim do território indígena do Votouro. Vivi a maior parte da minha vida dentro do território. Morei lá até os meus 15 para 16 anos, que foi quando mudei do território por questões pessoais envolvendo a minha família. Tive que ir para a cidade, onde concluí o ensino médio.
Foi o primeiro espaço em que estive mais aprofundadamente com a sociedade envolvente. Me formei lá, com bastante dificuldades.
Depois, o meu irmão, passou no processo seletivo específico, para a FURG (Fundação Universitária Federal) em Rio Grande. Passou para Psicologia. Aí tive contato com a possibilidade de ingressar em uma universidade. Prestei exame nos processos seletivos para a Furg, para a UFSS (de Erechim) e para a Ufrgs.
Optei por vir para a Ufrgs por conta, um pouco, da distância do meu território, que é bastante longe, de seis a sete horas de ônibus. Pela necessidade de estar mais próxima da minha família, eu optei por vir para cá.
Minha mãe é artesã. Foi o que manteve a gente até por volta dos nossos 15 anos. Depois, ela começou a trabalhar nos frigoríficos da região e foi mantendo a gente.

“Vejo minha mãe como um símbolo de luta, de conquista e de muito orgulho para mim”. Foto: Rafa Dotti
E a tua família continua lá?
Minha mãe voltou para o território depois que eu vim para cá. Ela tem (também) a minha irmã mais nova que, sozinha com ela na cidade, também não seria bom. Vive lá junto com a minha avó e os meus tios.
Por que escolhestes Direito?
Também fico me perguntando. Para a UFFS, em Erechim, fiz para Arquitetura e Urbanismo. Sabia que não iria para a área da Saúde. Não tenho a menor capacidade. Talvez Psicologia, que ele também dialoga com o Direito em algumas áreas… Mas acho que o Direito vem muito da minha necessidade mesmo de ser mulher indígena. Já sei o que me atinge. Mas (preciso) compreender as formas que me atingem e como que posso combater isso e levar isso para as outras mulheres indígenas também.
Levar o teu conhecimento na área do direito para essas mulheres, para saírem também da violência…
Sim, tenho feito algumas atuações na Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul – ArpinSul, mais no que diz respeito às mulheres indígenas. Em alguns casos, às vezes, algumas atividades, algumas formações.
É um ponto também para as mulheres do território.Tenho tentado trazer isso um pouco mais para o meu núcleo familiar porque onde estão maus contatos, por enquanto. Agora que eu estou voltando para o território, quem sabe posso fazer algum tipo de formação, para que elas compreendam minimamente os seus direitos.
O que podes falar sobre a trajetória da tua mãe, uma mãe solo, indígena, que saiu do território e foi para a cidade?
Minha mãe é uma mulher que foi atravessada por diversos tipos de violência. Eu vejo ela como um dos maiores símbolos de perseverança de uma mulher Kaingang. Nem no seu maior limite, no seu maior cansaço, para sair desse ciclo de violências que sofria, ela largou tudo para fazer a vida dela. Ela optou por não deixar a gente.
Eu e meu irmão somos os mais velhos. Meu irmão tem 13 anos de diferença de mim. Ela pegou o finalzinho desse ciclo. Não deixou a gente, sendo que os genitores, tanto o meu, o do meu irmão e da minha irmã, nunca foram presentes. E, se foram presentes, foram de forma negativa.
Vejo minha mãe como um símbolo de luta, de conquista e de muito orgulho para mim. Ela é o principal dos porquês de eu estar na universidade e de ter concluído o curso. É para ela que eu faço isso. É um espelho das outras mulheres indígenas. Ela hoje tem dois filhos graduados. Meu irmão conseguiu se graduar em Psicologia também. E minha irmã está terminando o percurso do Ensino Básico também.
Dentro da comunidade?
Sim.
E como é a educação no território?
Acho que já foi falado muito sobre o tempo Kaingang. Não sei se alguém já ouviu falar. A gente respeita o nosso tempo. Existe o tempo para estudar, sentar na cadeira, ler livros. Nada mais se faz sem a educação desse tipo.
Mas a gente também tem o nosso tempo para os rituais, para dialogar com o território. A gente buscava material para artesanato, procurava comidas típicas. Tudo dentro da grade curricular do território. Estudava a língua Kaingang. Os meus professores respeitavam bastante esse tempo também dentro dos territórios.
Foi implementado o Ensino Médio no território e eu fiz todo o curso menos o terceiro ano. Uma dos meus maiores choques na universidade — porque a universidade não quer saber se você tem o seu tempo ou não — ela quer o tempo dela.
Como foi a chegada na universidade?
Foi bastante ruim. Foram dois anos de adaptação. Sempre fiquei em casa com a minha mãe — eu e meu irmão criamos a minha irmã enquanto nossa mãe trabalhava.
Quando saí, minha irmã tinha 4 ou 5 anos e eu nunca tinha saído de casa por muito tempo. Minha mãe veio comigo fazer a matrícula aqui na UFRGS. Mas, depois que começaram as aulas, vim sozinha, sem conhecer nada de Porto Alegre, só sabendo o endereço onde tinha que ir.
Não sabia se tinha alojamento. Depois o pessoal do Coletivo Indígena recepcionou a gente. Mas foi bastante difícil, muito mesmo.
Eu tinha a Bolsa-Permanência, mas demorou um ano para eu receber. E só tinha os auxílios da UFRGS. Tinha o auxílio de R$ 500 para aperfeiçoamento para os indígenas. Eu também era muito jovem, não sabia como administrar isso, minha mãe tinha que dar esse amparo de lá.
Então, além das necessidades financeiras, houve dificuldades emocionais também. Tive bastante dificuldade sem ter os meus com quem convivia diariamente.
E também, por esse tempo diferente da universidade, demorei muito. Até hoje não entendo muito bem esse tempo, mas consegui, de certa forma, conciliar o meu tempo com o tempo deles. Tanto é que me formei depois de sete anos. Levei o meu tempo mas também dentro do tempo deles.
Na questão da UFRGS, teve a luta da Casa Estudantil Indígena também. Você participou?
Sim, eu estava ali. Participei de algumas reuniões, inclusive, de mediação a reitoria. Foi um processo bastante difícil também, mas necessário. Não foi a universidade que deu. Foi a luta do movimento indígena com o movimento negro e outras organizações apoiadoras.
Novamente, é um espelho do que é a luta do movimento indígena nacional. Nunca é dado para a gente. É tudo conquistado.
O que representa o Abril Vermelho para ti?
Está sendo um mês bastante simbólico, necessário. É um mês de luta. Agora tem também o acampamento Terra Livre, que é o marco de 20 anos do movimento nacional.
Você é a primeira indígena formada em Direito no estado e o escritor Ailton Krenak faz pouco se tornou o primeiro indígena a assumir a Academia Brasileira de Letras em mais de um século de história…
Não tem como demonstrar a emoção que é isso. A gente está fazendo muita coisa faz tempo. É bastante simbólico e é também para a universidade. Por que estou sendo a primeira, sendo que já se faz muito tempo que tem as ações afirmativas para os indígenas?
Alguma coisa está errada principalmente quanto às condições de permanência desses estudantes dentro da universidade. Como disse, são várias as complicações que acontecem nesse meio tempo que fazem com que esses estudantes evadam. É preciso refletir sobre isso.
Quando a gente vê a Academia Brasileira de Letras, lembramos ainda da não entrada da Conceição Evaristo. Aquele espaço ainda tem essa predominância do branco…
São espaços como esses que a gente tem que retomar. Tem outro ponto que é a questão envolvendo gênero. Porque ele é um homem indígena, mas ainda é um homem também… É uma grande conquista para o movimento indígena mas é necessário refletir sobre isso também.
Na tua entrada na universidade você viveu uma situação de preconceito, racismo?
Sim, passei. Há uma muito recente, no décimo semestre. Nem estava prestando atenção a uma aula, porque era um professor que não tem didática, não tinha porque prestar atenção naquilo ali, porque eram histórias aleatórias. E, numa dessas, ele fez uma analogia. Não prestei atenção, só escutei quando falou “indígenas”. Aí, ele falou que os estudantes ali não eram que nem os indígenas, que não tinham cultura, nem nada.
Não entendi na hora. Fiquei olhando ele. Depois, o colega que estava atrás de mim, que foi uma das pessoas que se formou comigo, muito amigo meu, disse “Bah, sinto muito por isso.” Perguntei o que o professor disse e ele me falou…
Esperei a aula terminar para falar com o professor e falei: “Acho que o senhor, como professor de direito, deveria saber que os povos indígenas são mais de 305 dentro do território, e são riquíssimos de cultura. O senhor deveria repensar as suas falas”. Não adiantou muita coisa. Ele disse “Ah, é porisso que sempre peço desculpas no começo da aula, para não ofender ninguém, porque hoje em dia não dá para falar nada”. Esse tipo de coisa, sabe?
Não fui mais na aula dele, não fiz mais nada. Ele me passou mas me marcou um pouquinho. E, em alguns ambientes de trabalho, de estágio, foi bastante horrível.
Em uma das organizações em que trabalhei eu era bastante desorganizada mas mantinha o fluxo. Tentava fazer as coisas dentro do que me era demandado. E tentava ser proativa no que eu podia também.
Em uma das reuniões, a chefe disse “Tudo bem você não estar satisfeita com o trabalho.Você pode, é seu direito, cobrar isso. Os povos indígenas lutaram tanto para que vocês estivessem na universidade para concluir a graduação, para vocês nem conseguirem exercer a sua própria profissão”… Então, são coisas como essas…
Por isso que tu falaste dos rituais, do teu tempo e do tempo da universidade…
Claro. Eu vou ser indígena em qualquer outro lugar que eu ir. Assim como todos os outros indígenas. Continuam sendo indígenas mesmo não estando dentro do território. É importante deixar claro isso. Porque a gente teve que buscar, sim, oportunidades em outros espaços utilizar dessas ferramentas como ferramentas de luta do movimento indígena.
Faz parte, é necessário. Se a gente não ocupar esses espaços, nenhum direito nosso vai ser mantido, protegido, promovido. São espaços necessários.
Mas isso não diz nada em relação a nossa identidade indígena. A gente pertence ao território, mantemos os nossos ritos, a nossa língua.
O que pode dizer sobre o Ministério dos Povos Indígenas?
É um reflexo do que é o movimento indígena nacional, para proteger os seus direitos e promovê-los. Porque a gente vê a dificuldade que ele tem sofrido dentro nesse cenário político atual para se manter, para conseguir exercer suas funções das quais ele inicialmente foi criado, as intenções das quais ele foi criado.
A gente percebe a dificuldade. O cenário atual político não é nada favorável para o movimento indígena, para o direito dos povos indígenas. Porque mesmo com a saída do Bolsonaro, o bolsonarismo ficou. A bancada ruralista ficou e é maioria lá.
Uma mensagem final.
As mulheres indígenas devem continuar a lutar. Sempre vai ter obstáculos na nossa frente, mas somos a força, a força do território, das lutas. Somos o ponto inicial de tudo. Então, a gente precisa ser forte.